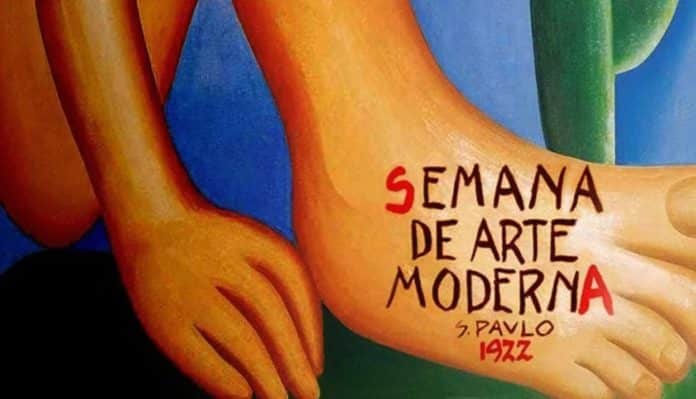Durante o período em que eu, na qualidade de encenador e de ator, estudava e montava um espetáculo inspirado nos vilãos de Shakespeare, surgiu nas mesas de debate a hipótese de que a famosa fala de Hamlet conteria alteração na sua estrutura sintática. Em vez de “ser ou não ser” aventou-se a possibilidade de “ser e não ser”, o que acarretaria uma modificação radical do sentido da fala. Shakespeare pode não ter escrito dessa forma, usando “e” no lugar de “ou”, mas cogitar essa outra sintaxe nos ajuda a interpretar o drama hamletiano por outro ângulo.
A bem da verdade, a expressão “ser ou não ser” indica alternância, ao passo que “ser e não ser” indica paralelismo. No primeiro caso, as duas realidades implicadas (o ser e o nada) existem cada uma ao seu modo, impedindo que as oposições entre elas se contrabalanceiem. Ser ou não ser nos mostra que o ser enquanto ser exclui o não-ser enquanto não ser, e vice-e-versa. Raciocínio excludente típico da filosofia do eleata Parmênides. No entanto, ser e não ser se comporta de forma a respeitar a existência de ambos. O ser coexiste ao lado do não-ser, sem que um se sobreponha ao outro a ponto de não aceitar a diferença que se coloca entre eles.
Esse raciocínio de inclusão não o vemos na fala de Hamlet; apenas o cogitamos hipoteticamente que o herói clássico tenha sofrido na pele o drama de, ao mesmo, conter o ser e o nada em sua constituição ontológica de homem. Em igual medida poderíamos cogitar que o mesmo paralelismo ser/nada estivesse na paródia feita pelo grande Oswald de Andrade no polêmico Manifesto Antropófago, publicado na Revista de Antropofagia (1928). Logo nos primeiros versos, o escritor anunciou: “Tupy or not tupy: that´s the question”[1]. Seguindo o viés meditativo, Oswald trouxe à tona uma questão a se refletir, desobrigando-se da curiosidade metafísica inerente à frase shakespeariana, para se concentrar apenas no teor antropológico.
Dado ao frenesi da época, quando a intelectualidade paulistana investigava a origem étnica dos primeiros habitantes, se ela derivava do [tupi] ou do [tapuia], Oswald assimilou esse espírito e o transpôs para os versos, fazendo uso do estrangeirismo e do senso de humor. No trocadilho bem-feito, o escritor confundiu a sonoridade aguda de “tupy” com a aquela do verbo “to be”, gerando um efeito risível. No entanto, pelo que notei, a intenção do artista ultrapassa o mero jogo de palavras. Na frase brincalhona, há uma intromissão que não só confunde o som, como também confunde os sentidos e introduz uma nova semiótica.
O “to be”, que significa “ser”, por analogia, é “tupy”. Radicalizando a fronteira existente entre o “to be” e o “tupy”, o que temos é confusão de línguas e, portanto, de traduções. Em síntese: ser equivale a ser indígena. Se tomarmos essa fusão ao pé da letra, tupy é o que somos; e somos de uma forma estranha, estrangeira, com “y” ao final da palavra – essa é a questão!
A questão não é ser simplesmente, mas ser indígena e de um modo atravessado. A Antropofagia, da qual Oswald era filiado “socialmente, economicamente e filosoficamente”, representa a radicalização das fronteiras, de modo que as alternativas desaparecem do cenário[2]. O Modernismo da Semana de 22 fundou um novo estado de espírito, a partir do qual foi possível a inexistência desta ou daquela linha delimitadora. Com isso se reforçou a necessidade de cessar com as dicotomias que determinavam formas de pensamento e expressões de cultura.
No Modernismo implantado por Oswald de Andrade e Mario de Andrade, realidades opostas e contraditórias deixam de valer como tais, de modo que deixa de existir aquela divisão bem demarcada que separa as diferenças. O selvagem e o civilizado, o passado e o futuro, o nacional e o internacional, etc., tudo se conforma em uma única realidade, em um único termo. Brasil, brasileiro, brasilidade. Qualquer um desses nomes traduz melhor aquilo que somos do que a forma dicotômica que costumamos atribuir. Somos indígenas e não somos indígenas. Não se trata de alternância; o “ou” não tem vez nessa nova maneira de apreender a origem do nosso povo. Somos e não somos. Estabelecemos entre realidades distintas um enfrentamento e não um descarte, uma lógica de eliminação, como se pudéssemos eleger isto ou aquilo para sermos.
Os artistas que compuseram o corpo intelectual da Semana de Arte Moderna buscaram implementar uma postura de enfrentamento. Estavam dispostos a assumir as contradições da cultura encarando seus vícios e inimigos. Por isso, eram vanguardistas, ou seja, indivíduos armados intelectualmente e nutridos do ideal que pregava a “união de todas as revoltas eficazes na direção do homem”. O valor da vanguarda é o dizer “não”; é ser do contra, sem se apartar:“Contra todos os importadores de consciência enlatada. (…) Contra o Padre Vieira (…) Contra as elites vegetais. (…) Contra a verdade dos povos missionários (…) Contra as escleroses urbanas”[3].
Tendo como meio eficaz a literatura bombástica do manifesto, a dupla Oswald-Mario adotou a revolta como motor ético, negando e afirmando aspectos da arte e da vida, visando a abertura de perspectiva, a fundação de uma visão menos ressentida com as contradições e mais aderente às diversidades de línguas, linguagens e etnias. Também, por isso, abrasavam na alma “o anseio do farol”, como disse Mario: alumiar, no plano da cultura, “o caminho a seguir”.[4]
A primeira das revoltas do antropófago é causar o enfrentamento entre o “eu” e o “não-eu”, entre o familiar e o estrangeiro, entre a raiz e o rizoma. O significado de Antropofagia está carregado desta ideia: da inclinação lógica e estética pelo “e”, e não pelo “ou”. É isto o que Oswald pretendia ao dizer: “só me interessa o que não é meu”. Querer a raiz-Brasil e orizoma-mundo. Agregar o mundo em vez de se dissociar dele. Mas não fazê-lo pelo método racional, civilizado, moralista; mas, ao contrário, pelo modo indígena de ser: canibalizando.
Oswald declara que esta é a “lei do homem”, do “antropófago”: a “absorção do inimigo sacro”. Ele percebeu que a cultura brasileira não é outra coisa senão um corpo faminto que se alimenta do que “não é seu”, que absorve o estrangeiro, mesmo sendo o estrangeiro seu inimigo, seu colonizador. O antropófago cria associações de imagens, todavia de maneira indígena, devorando-as. Nesse processo digestivo, assimilativo, ele aproxima o indígena e sua imaginada selvageria do europeu e sua imaginada civilidade, pois ele consome o que não é seu através de métodos civilizados, como a arte, o discurso, a literatura. Usando desse expediente, ele rompe com a fronteira tanto conceitual quanto real que dicotomiza o primitivo do civilizado.
Se o selvagem usa da civilidade para se revoltar contra a própria noção colonialista de civilidade, isso significa que ele absorveu o inimigo e o incorporou dissolvendo hierarquias de poder. Antropofagia é incorporação; é ser-Brasil e não ser-Brasil; é “to be” e “tupy”. “Sou um tupi tangendo um alaúde”, disse o poeta[5]. Mário realizou o movimento selvagem bebendo da fonte do que havia de mais moderno na Europa: o Futurismo, a vanguarda italiana que eclodiu nos anos de 1910, sob a batuta de Marinetti. Ele próprio admitiu: “somos na realidade os primitivos duma era nova”, mas que busca “entre as hipóteses feitas por psicólogos, naturalistas e críticos sobre os primitivos das eras passadas, expressão mais humana e livre de arte”[6].
No entanto, quando a Semana de Arte aconteceu, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, em São Paulo, o estilo futurista já era decadente. Em viagem à Europa, Mário se impressionou com o que viu, mas tinha plena consciência de que ao voltar ao Brasil o que ele apresentaria como resultado dessa influência não seria Futurismo, mas outra coisa. Ele dizia: “E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar duma só vez das teorias-avós que bebeu; e o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem”[7].
A fonte de Mário, como também a de Oswald, de Villa-Lobos, de Anita, de Bandeira, de Di Cavalcanti, de Brecheret, de Menotti era uma só: o passado. Mas não o passado com que ele tem de arrogância catequizadora, ou seja, com o que ele tem de colonialista na forma de pensar. “O passado”, afirma Mario, “é lição para se meditar, não para reproduzir”[8]. Isto significa que a tradição deve ser recuperada como lição aprendida que se entranhou no corpo e no espírito. Tanto a lição portuguesa, ensinada na academia, quanto a lição indígena, ensinada nas matas; enfim, todo o material expressivo herdado deve ser atualizado, no presente, e ser reanimado.
O antropófago vive o próprio espírito do que é moderno: a síntese entre passado e presente, como se não houvesse muralha temporal que os separasse. O artista modernista entende que passado não é bloco do tempo que já foi. Não fomos indígenas e agora deixamos de ser. O presente também não é um bloco solto no espaço, mas fluxo contínuo que vem acontecendo desde o passado. Por isso, continuamos indígenas, tupis; mais que nunca, regidos pela civilização que adoramos e desprezamos. Somos e não somos, como Hamlet, em conflito com sua identidade. Sendo assim, nosso modernismo nunca foi Futurismo, mas Passadismo.
[1] ANDRADE, OSWALD DE. Manifesto antropófago. Disponível em: Manifesto Antropófago – Edição crítica e comentada | de Andrade | Periferia (uerj.br) Acesso em 20 de março de 2022.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] ANDRADE, Mário de. Pauliceia desvairada.
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Idem.
[8] Idem.