Não houve um espírito tão arguto e tão ousado como o do alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900). Se todo pensador tivesse sido como ele foi, quer dizer, tivesse sido experimental, adepto de uma linguagem filosófica não empolada, sem todo aquele aparelho acadêmico, sem aquele pedantismo irritante que muitas vezes nos faz tomar distância até mesmo de ideias que somos de acordo, enfim, que tivesse introduzido problemas deveras relevantes e inquietantes, entrado em contradições, sido evasivo ou incisivo demais, deixado margens para interpretações das mais diversas, teríamos não só um Nietzsche, mas duzentos Nietzsches.
No entanto, Nietzsche é único. Na história do pensamento atuou como “dinamite” e não “como ser humano”: implodindo um edifício antigo cujos alicerces, quando vistos de perto, apresentam sua fragilidade em forma de mofo e rachadura. A metafísica, essa velha estrutura do pensamento, esse suporte que embasou mais de mil anos de labor científico, tornou-se alvo do ataque nietzschiano, pois precisava ser reconsiderada nos seus valores. Ávido por uma filosofia que não fosse uma mera representação de coisas abstratas, por uma filosofia que pretendesse dar testemunho daquilo que propala com seus argumentos, ou seja, que fosse – segundo a expressão tautológica – uma “filosofia da vida”, Nietzsche foi longe na sua crítica.
A Arte foi um desses pontos dentro do quadro histórico da cultura ocidental que Nietzsche pôs reparo e demonstrou interesse em reformular o conceito. Disperso entre diversas obras, o conceito “Arte” tomou uma proporção gigantesca para Nietzsche. Decerto, ele foi a fundo na definição de tal conceito, mas, acima de tudo, soube como ninguém usar a Arte como técnica filosófica. Era artístico o modo que encontrou para ser filósofo, substituindo a erudição dos argumentos por metáforas, mitos, parábolas, poemas e seu magnífico romance Zaratustra.
Não há como pensar Nietzsche sem, ao menos, nos atentarmos para as noções de poder e de força. De saída, Nietzsche está filiado a uma dimensão inalienável, ou seja, impossível de tergiversar ou disfarçar; é ela: a vida. A vida, para Nietzsche, é o princípio e o fim de todo pensamento. Mas o que é a vida? Ele responde: “é especificamente uma vontade acumuladora de força” ou um “anseio por um sentimento maximal de poder”. Vontade é o anseio, o mundo volitivo inerente a tudo que vive; esse anseio é “essencial” e abrange a natureza. “Ansiar nada mais é do que ansiar por poder”. O poder tem uma mecânica: acumula–se quanto mais se anseia por ele, até chegar o momento em que o próprio corpo, não suportando se manter com tanta carga energética, tende a extravasar o que tem. O poder quer se estender, quer crescer.
Ao se estender, o poder sente a capacidade de acúmulo de energia aumentando; tal sensação é o que chamamos de força; ser forte é sentir-se com energia em demasia; acredita-se que, com a energia acumulada, é possível realizar algo, proporcionar mais “aumento no sentimento de poder”, através de uma ação, de um fazer; e todo “fazer é um superar, um tornar-se senhor”, um criar, um “selecionar e aprontar” materiais que a vontade domina no ato de apropriação, pois quando a energia extravasa ela segue na direção daquilo que pode incorporar.
A Arte é o modelo mais exemplar desse acúmulo de energia que o corpo vai retendo até o momento em que não pode mais contê-lo e o extravasa como força, a fim de dominar um material que existe fora dessa mecânica interna de poder. O que quer a Arte? Assenhorar-se de algum material, modelando-o, burilando-o, e fazendo dele sua posse, seja um material emotivo, sonoro, pictórico, tridimensional, gestual e verbal; o artista está sempre visando alcançar tal domínio material para sentir-se forte, provando a extensão de poder e confirmando o quantum energético que se acumula e se expressa em seu corpo desejante e criador.
O artista, para Nietzsche, é um ser trágico, quer dizer, é aquele tipo humano capaz de encarar a vida sem maquiagens, sem falsificações ou idealizações; é aquele que intui, que “vê o caráter temível e problemático da existência”; que “não apenas vê (…), mas antes vive e quer vivê-lo” experimentando a ação criadora “como caminho para estados nos quais o sofrer é querido, transfigurado, divinizado; no quais o sofrer é uma forma do grande arrebatamento”.
Constantemente em busca de um nível de vida mais elevado e mais potente, o artista se torna o aliado da vida naquilo que ela tem de real em sua estrutura; mas, como se trata de Arte, isto é, de interpretação, aquilo que o artista transfigura – e que lhe causa sofrimento – não é repetido fielmente na aparência. O artista é um fazedor de aparências, fundando imagens que sempre enaltecem a vida, que fazem a vida esbanjar suas formas em toda sua magnitude; a arte é uma máquina que reflete “nossa própria plenitude e prazer de viver” como a “pulsão sexual, a embriaguez, a refeição, a primavera, o triunfo sobre o inimigo, o escárnio, o virtuosismo, a crueldade, o êxtase do sentimento religioso”. Enfim, as aparências artísticas são maquinações.
Por meio de tais maquinações a vida é arranjada e organizada em um processo de economia volitiva em que a obra de arte se torna uma síntese, um composto que reflete a energia acumulada do artista e sua força em transpor essa energia para algum material que está sob sua posse; estando sob sua posse, o artista não projeta nada “assim como é, mas antes mais pleno, mais simples, mais forte do que é”; mas é preciso coragem para ser esse tipo de artista.
Nietzsche reconheceu a existência de um desvio dessa noção vitalista de Arte – o Romantismo. Preferiu, como oposição, o Classicismo, porque esse era o modelo dos gregos que foi minado pela vigência da metafísica transcendente e da moralidade judaico-cristã-burguesa que transformou a Arte em algo cuja validade se pautaria no puro desencarne; quer dizer, no escapar para fora desse mundo. O romântico era adepto do moralismo da “arte pela arte”, como se esse propósito fosse suficiente para criação e para a contemplação de obras. Não! Nunca foi suficiente. A Arte não é criação para satisfazer a si, não é gozo solitário de uma força posta em ação a serviço da moralidade; ela é mais que isso: “é o estado mais elevado da vida”.
Nietzsche rechaçou a ideia da Arte enquanto serva de ideais abstratos que resultavam na crença em entidades superiores; ele fez com que a Arte não se distanciasse das necessidades fisiológicas humanas. Em nós não é espiritual, mas fisiológica a necessidade da Arte: o corpo anseia por ela, para se fortalecer, se engrandecer, se recordar “estados do vigor animal”, para sentir a “exalação da corporeidade florescente no mundo das imagens e dos desejos”.
A Arte, com seu impulso procriador, com sua efervescência inventiva desejante de promover o frescor da vida, selecionando, arranjando e animando formas novas e diferentes, “cobre o objeto que o excita”, o objeto para o qual se dirige seu assenhorar, “com um encanto”; e esse encanto é a beleza, o elemento decisivo para que a Arte seja o efetivo (e prazeroso) movimento de afirmação de uma existência e não mais um valor abstrato, ideal ou “supremo”.


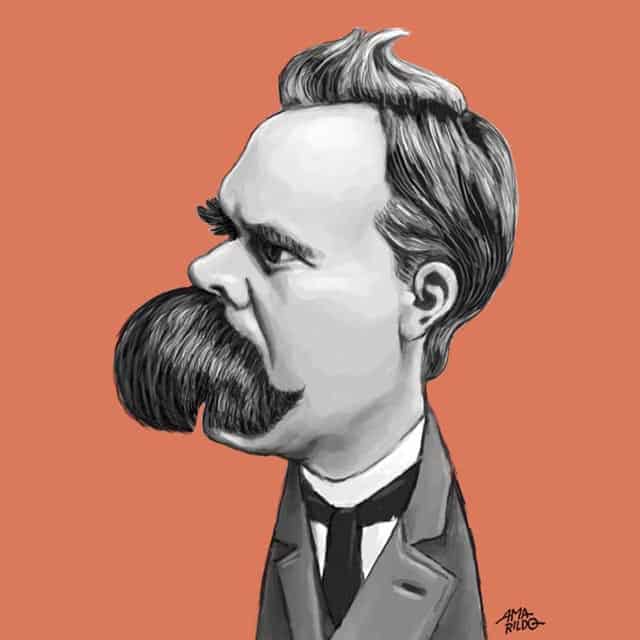





A arte como verdade do ser… Muito bom.
A memória intelige a arte como bela, quando o intelecto a reconhece como verdade e a vontade a aceita como bem…